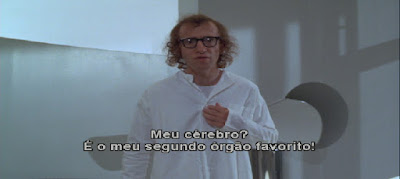(
War Horse, EUA, 2011) Direção Steven Spielberg. Com Jeremy Irvine, Emily Watson, Peter Mullan, David Thewlis, Tom Hiddleston, Celine Buckens.
Há certo simbolismo relacionando equinos a comportamentos de bravura, fidelidade e beleza no cinema. São vários os filmes que abordam essa temática. Só na última década, houve dois bons longas seguindo esse viés: Seabiscuit, com Tobey Maguire no papel de um jóquei deficiente visual e Mar de Fogo (em uma tradução enigmática para Hidalgo, nome do cavalo montado por Viggo Mortensen na aventura sobre uma corrida nas areias escaldantes da Arábia). Antes destes, O Corcel Negro, em 1979, já havia demonstrado a coragem desses animais de forma poética e lírica.
Poesia e lirismo definem bem o novo trabalho de Steven Spielberg. Poesia, lirismo e melodrama, corrijo. Desde Amistad que o diretor não investia de forma tão direta no apelo emocional de um longa. Talvez em Resgate do Soldado Ryan pode-se afirmar que o melodrama foi dosado pelo excesso de patriotismo. Mas como este novo filme se passa no velho mundo, não houve como o diretor investir em flâmulas patrióticas de modo tão escancarado como na obra protagonizada por Tom Hanks.
Cavalo de Guerra conta a saga de Joey, um potro que, desde o primeiro momento de vida, é observado e amado pelo jovem Albert Narracott (Jeremy Irvine), um humilde filho de agricultor da Inglaterra pré Primeira Guerra Mundial. Após adquirir o animal em um leilão feito na base do orgulho e inimizade entre senhorio e locatário, o pai de Albert, Ted (Peter Mullan), acaba arrematando o animal apenas por capricho, uma vez que ele não queria perder a aposta de compra para Lyons (David Thewlis), o homem de quem ele aluga a casa e as terras de onde tira sua subsistência.
 |
| Albert e seu amigo Joey: amizade que sobreviverá à Guerra |
Surpreso e feliz com a atitude do pai, Albert promete que treinará o pequeno cavalo para que ele consiga arar as terras. Algo que todos duvidam, uma vez que o animal não aparenta ter o porte necessário para tamanho esforço. Eficaz o modo como o diretor opta por exibir Joey ao lado de um garanhão puro sangue que parece ter o dobro do seu tamanho. Obviamente que nós, como espectadores, sabemos que o bicho será capaz de fazer qualquer coisa que seu jovem dono queira. No entanto, a cena em que o animal demonstra seu valor no trabalho de arar as terras consegue captar a emoção necessária e, claro, manipulada por Steven Spielberg. Nesse momento, sabemos que o drama em torno das dificuldades pelas quais Joey passará e superará vai ser a força motriz do longa. Todos os elementos estão ali presentes. A trilha sonora inspirada de John Williams, a fotografia belíssima de Janusz Kaminski (ambos parceiros contínuos de Spielberg) e, claro, toda a vontade de fazer o espectador chorar que o diretor possui.
Mas a trama não gira em torno da vida rural de Joey. Logo, assim que é declara a guerra entre Inglaterra e a Alemanha, os britânicos passaram a investir pesado no esforço bélico. As tropas de cavalaria eram um dos eixos de batalha ingleses. Percebendo-se sem condições de se manter nas terras alugadas após perder toda uma colheita, Ted decide vender o cavalo do filho para o exército. O que, claro, vai gerar no rapaz toda a indignação e a revelação do final do filme na frase “nos encontraremos novamente”, afinal, a intenção de Spielberg é justamente essa: preparar todo o terreno através de altas doses de drama manipulador para no, no fechamento da trama, entregar o que todo mundo vai querer ver em um típico final feliz.
Não que isso seja um problema. Afinal, a proposta do filme é justamente essa. Apresentar um herói que cativa todas as platéias (quem não se encanta com cavalos heróis em fazendas?) Aliás, a dos Narracott lembrou-me a de Babe- Um porquinho atrapalhado, por conta do apelo cômico que o diretor inventou ao usar a figura de um ganso que ataca visitantes, se esconde da chuva e observa o jovem Albert conversar com o cavalo. Se já sabemos que no final veremos o jovem feliz com seu amigo na fazenda, a solução é observarmos com curiosidade tudo o que acontecerá no decorrer das quase três horas de projeção. A saga de Joey na Primeira Guerra Mundial serve como fio condutor para apresentação de diversos personagens que, apesar de não serem desenvolvidos pelo roteiro, apresentam-se como alavancas para a trajetória do cavalo ao encontro de seu antigo dono no final do filme (friso: não é novidade saber como filme acabará).
 |
| Joey é adotado pela garotinha francesa, Emilie |
Deste modo, conhecemos sempre pessoas de boa índole no decorrer da temporada de Joey como parte do exército inglês. A começar pelo Capitão Nicholls (Tom Hiddleston), que acolhe de modo benevolente o animal, adotando-o como sua montaria oficial e prometendo ao garoto tomar conta dele. Os roteiristas Richard Curtis (responsável pelo ótimo Notting Hill) e Lee Hall (que já tinha experiência em dramas com Billy Elliot) inserem os personagens que entram na vida de Joey de modo a utilizá-los apenas como ilustração, sem a necessidade de desenvolvê-los. Isso acaba, invariavelmente, tornando-os unidimensionais gerando um incômodo por conhecermos somente uma face deles, aquela que o diretor quer exibir de forma exageradamente maniqueísta.
E serão vários, como disse antes. Desde os irmãos alemães, desertores do exército, e que fogem com Joey, passando pela órfã garotinha francesa, neta do fazendeiro fabricante de geléia de morango. De modo óbvio e preguiçoso, ela é inserida na trama pelos roteiristas como uma criança que, por alguma razão não revelada, precisa tomar um remédio de gosto amargo e que, durante a visita do exército francês à fazenda em busca de mantimentos, é chamada de “garota doente” de modo constrangedoramente expositivo. Outro ponto que demonstra um erro crasso da produção é o fato de todos os personagens, sejam eles franceses ou alemães, utilizarem o inglês como língua principal nos diálogos com seus pares. Uma pena que toda a preguiça estadunidense em ler legendas tenha adicionado mais esse critério negativo às incoerências gritantes que vários momentos de Cavalo de Guerra trazem.
 |
| Em um belo momentos do longa, Joey foge dos horrores da guerra |
Apesar do fiapo de história e do desenvolvimento mal executado por Spielberg, Cavalo de Guerra possui, em seus aspectos técnicos, triunfos esplendidos. É o caso da bela elipse feita na fazenda dos Narracott, utilizando uma concha coque que a personagem de Emily Watson costura e a vista aérea do campo arado por Albert e Joey. Outra é a cena onde Joey foge do exército francês e cavalga de forma insana por sobre e entre as trincheiras, até ser detido pelos arames farpados em uma linda e chocante sequência. A fotografia de Janusz Kaminski atrelada aos efeitos sonoros e a montagem acelerada de Michael Kahn, outro colaborador costumeiro do diretor, junto, claro, aos momentos de altas nuances musicais de John Williams, faz desse um dos grandes momentos do longa. Outro momento é a cena final, onde Kaminski cria uma lindíssima ambientação dourada usando o pôr-do-sol. Uma cena que me fez lembrar várias tomadas do velho oeste americano, feitas por John Ford.
Uma pena que a história não soe tão natural, uma vez que todo o apelo dramático de Spielberg sobrepõe o bom senso da obra, tornando um exemplo de filme manipulador de emoções que, apesar de fortes em alguns momentos, soam maniqueístas ao extremo.